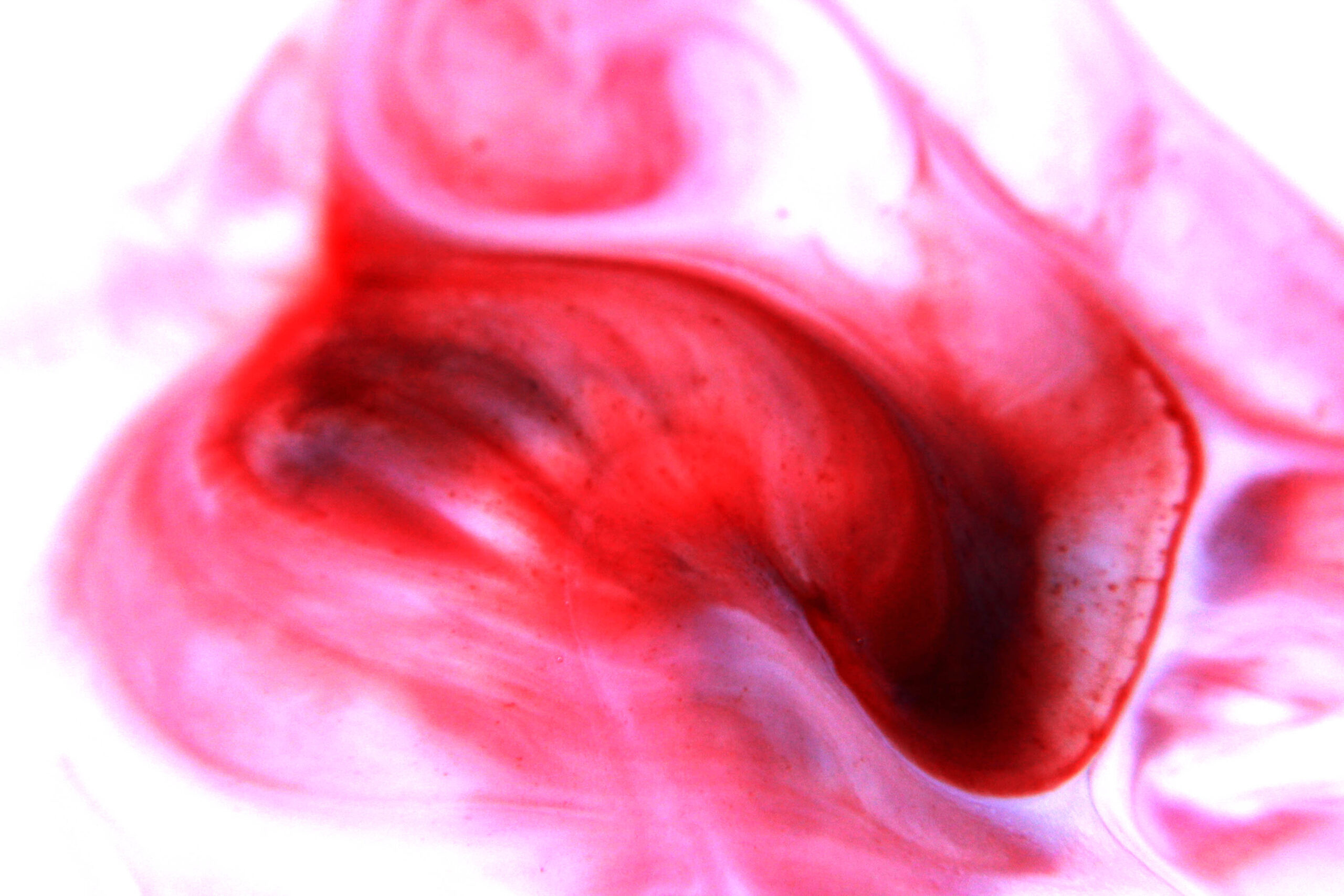Quando fui diagnosticada com câncer de mama aos 35 anos, eu tinha a certeza de que a relação – nem sempre saudável, admito – que tinha com meu corpo até então mudaria. Primeiro e antes de tudo, porque eu oscilava, como um pêndulo, entre dois extremos.
Um deles era me sentir traída por um corpo que agora dava seu jeito de tentar me matar. Na outra ponta, me sentia envergonhada, como se a traidora fosse eu, e tivesse, de alguma forma, causado ao meu corpo este estado em que ele agora estava: doente, ameaçado de não existir mais.
Além disso, toda a cultura pop, e mídia e as histórias de alguma parente de alguém me diziam que eu estava, talvez, prestes a perder duas das coisas que a sociedade, patriarcal e transfóbica, havia me socado goela abaixo, uma vida inteira, que me faziam uma mulher: meus cabelos e – pelo menos um dos – peitos. (Dito e feito, aliás).
É uma ironia fina o fato de que quando estamos tratando um câncer, é comum que nosso corpo fique totalmente sem pelos, quando como somos bebês, ambas situações em que estamos vulneráveis, frágeis e precisamos ser cuidadas.
E precisamos, além disso, nos cuidar para não cair nas ciladas do patriarcado, um trabalho contínuo, inclusive durante o câncer.
Historicamente, a sociedade reconhece o corpo feminino, e por consequência, as mulheres, em três lugares: o trabalho doméstico, o sexo (para o prazer do outro) e como incubadora de filhos.
Eu discordo radicalmente de qualquer premissa que tente apontar onde as mulheres devem estar, e já discordava quando tinha menos fios na cabeça e um vazio no meu sutiã.
Mas mesmo sendo cobra criada, lembro de estar doente e me encarar no espelho e não me reconhecer.
E tenho também a memória de me questionar, injustamente: quem é essa mulher neste corpo inadequado para trabalhar, trepar e parir?
E não é paranoia da minha cabeça. Os números do machismo e da misoginia não mentem. Sete em cada dez mulheres com câncer no Brasil são abandonadas durante o tratamento.
Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), divulgada em abril de 2023, revela que o abandono impacta 70% das pacientes oncológicas. Todas em corpos que , para estes homens que as abandonaram, não prestavam para o que se esperava deles: trabalho, sexo e reprodução.
O câncer vem com brutalidade e uma gravidade que só permitem a gente pensar em sobreviver.
Mas quem sou eu despida de tudo que sempre me disseram que me faz mulher?
Naquele corpo com tanta fadiga de quimio e radioterapia que mal subia um lance de escadas, e muito menos aguentaria atender às expectativas sociais de que eu realizasse tarefas domésticas.
Pior ainda é pensar que isso é um privilégio, e que para muitas, talvez a maioria das mulheres, não realizar este trabalho não é uma opção, pois não há quem faça por elas.
Um corpo sexualizável e desejável pelo outro, também não aparecia diante dos meus olhos no reflexo que eu via diante de mim.
Um pequeno mapa de cicatrizes que riscava o caminho que eu atravessava para sair viva. Um trajeto em que eu também emagreci, engordei, fui cortada e costurada mais vezes que eu posso contar e vi se rebelar em infecções, tromboses, cicatrizes e outros percalços.
E um percurso em que meu próprio desejo escafedeu-se, efeito colateral da quimioterapia, que aniquila qualquer sinal de libido.
Sobre parir, mulheres que, como eu, não têm filhos, se veem, da noite para o dia, e no possível pior momento das vidas, obrigadas a decidirem se querem congelar seus óvulos para garantir ao menos uma gestação na vida.
Porque provavelmente a quimioterapia as levará a uma menopausa precoce, que pode ou não ser revertida após o tratamento. E caso não seja, é o fim oficial dos dias férteis.
E como tem sempre uma camada extra de complexidade: para congelar os óvulos, é preciso fazer um tratamento hormonal, um possível risco dependendo do tipo de tumor.
Eu não congelei os óvulos, vivi precocemente o horror da menopausa e hoje, de volta ao calendário menstrual, me agarro ao meu DIU, porque, de fato, nunca quis engravidar, e sigo não querendo.
Então por que RAIOS a possibilidade de perder algo que eu nunca quis afetava tanto como eu me sentia como mulher?
Com o tempo, não sem dores (físicas e emocionais), fui voltando a me enxergar e, mais ainda, a enxergar o que o machismo tenta encobrir da gente todos os dias: que não é meu corpo, ou os fragmentos presentes ou ausentes dele, que me fazem mulher – embora a sociedade vá continuar insistindo em me mostrar o contrário.
E se hoje ainda carrego, na pele e nas metáforas, as marcas de estar doente, elas marcam, como a trilha de João e Maria, o caminho que atravessei para estar aqui: viva, vivendo, inteira.
O corpo feminino carrega um peso enorme de expectativas sociais, mas somos muito mais do que a soma dessas partes. Com ou sem câncer.





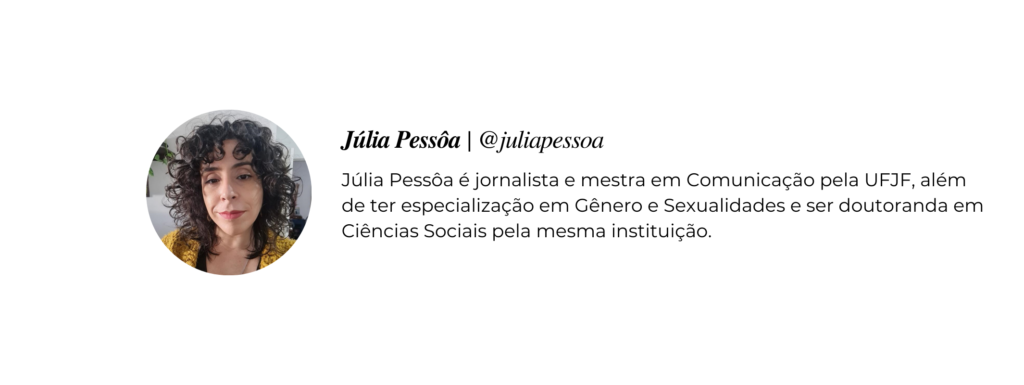
Quer compartilhar esse texto nas suas redes sociais? Use a nossa publicação no Instagram @revistaespelhonosso.
Leia outros Relatos na Espelho Nosso.